A OCLUSÃO DA SOBERANIA INDÍGENA: práticas e consequências no Brasil.
- Lara Diniz Araujo
- 7 de dez. de 2021
- 9 min de leitura
RESUMO: Em diversos instrumentos institucionais, sejam domésticos ou internacionais, os povos indígenas possuem seus direitos intrínsecos garantidos, inclusive sua soberania. No entanto, o Estado e a sociedade, através de práticas como a privação do direito à terra e a internalização legal dos povos indígenas, deixam claro que, na realidade, essas populações não detêm nenhum tipo de autonomia, pois, estão sob um poder estatal fundamentado em ideais coloniais e discriminatórios.
Palavras-Chave: Indígenas. Direitos. Soberania. Autonomia.
ABSTRACT: In various institutional documents, whether domestic or international, indigenous people have their intrinsic rights guaranteed, including their sovereignty. However, the State and society, through practices such as the deprivation of the right to land and the legal internalization of indigenous peoples, make it clear that, in reality, these populations do not have any type of autonomy, as they are under a well-founded state power in colonial and discriminatory ideals.
Key-Words: Indigenous. Rights. Sovereignty. Autonomy.
INTRODUÇÃO
“Os povos indígenas têm o direito a conservar e fortalecer suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo, seu direito de participar plenamente, se assim o desejarem, na vida política, econômica, social e cultural do Estado.” (Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2007).
Esse excerto está presente no Artigo 5 da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, documento que enfatiza a necessidade de promover e proteger os direitos intrínsecos, como a igualdade, o respeito e a autodeterminação, das populações indígenas em todo o mundo.
No entanto, estudos teóricos e casos do cotidiano mostram uma realidade bastante distinta da prevista pela Declaração citada acima. Desde a colonização europeia, os povos indígenas brasileiros vêm sofrendo verdadeiros processos de genocídio e etnocídio, e infelizmente estas violências persistem até os dias atuais. Mesmo com a existência de diversos mecanismos institucionais domésticos e internacionais que asseguram a proteção da soberania indígena no território brasileiro, o que se observa na prática é uma deliberada violação de direitos das populações nativas que vivem no país.
Nesse sentido, o presente artigo abordará primeiramente um referencial teórico que fundamentará a temática da negação das autonomias indígenas, explicando elementos como o “estado de natureza”, a construção do Estado, a oclusão da soberania e práticas de silenciamento. Além disso, o texto apresentará as consequências sofridas pelos povos indígenas brasileiros a partir da oclusão de sua soberania, especificando o caso da atual crise ambiental, sanitária e de invasão de terras do povo Yanomami.
SOBERANIA: UM DIREITO NEGADO AOS INDÍGENAS
Dentre as diversas formas de violência vivenciadas pelos povos indígenas no cotidiano brasileiro, a oclusão da soberania é uma das mais agressivas e prejudiciais, pois afeta diretamente todos os âmbitos da vivência indígena. Isso porque, a deliberada negação das autonomias política, econômica, social e cultural a essas populações, nada mais é do que um instrumento ativo no processo de subalternização das comunidades indígenas (URT, 2016). Assim, é importante ressaltar que o silenciamento e a exclusão dos indígenas ocorreram em diversos períodos da história brasileira, a partir de métodos muito bem elaborados e eficazes. No entanto, a oclusão da soberania indígena passou a ser executada como o método mais atual para subalternizar estes povos sobreviventes.
Nesse sentido, o processo de exclusão dos povos indígenas foi iniciado a partir da conceituação da ideia de “estado de natureza”, noção determinante para a construção dos Estados e das instituições westphalianas europeias. De acordo com Thomas Hobbes, o “estado de natureza” seria uma condição simulada decorrente da natureza egoísta do homem, que possui fortes tendências a ser competitivo, individualista e dominador, e detém a autopreservação como o único objetivo de suas ações (CABRAL & SANTOS, 2018). Isso levaria os homens a viverem em um estado de plena desconfiança, guerras e disputas uns com os outros, caracterizando a definição do “estado de natureza”: uma guerra de todos contra todos. Em vista disso, Hobbes afirma ser necessária a superação desse primitivo estado constante de guerra através de um contrato social que conduziria os homens a um “estado civil”, caracterizado pela vida em sociedade sob o poder de um governo soberano.
Essa concepção de “estado de natureza”, totalmente exclusivista e radical, conduziu a formação de todo o aparelho político westphaliano, incluindo os Estados, desconsiderando e inferiorizando diferentes formas de estruturas e sistemas, tanto políticos e econômicos quanto culturais. Isso porque, analisando a conjuntura histórica da origem desse conceito, torna-se evidente que não eram todos os indivíduos que “precisavam da civilidade” que o Estado e o contrato social promoveriam, mas sim certos grupos humanos específicos – em grande parte as populações presentes nas colônias europeias, como os povos indígenas (BEIER, 2002). Assim, quaisquer formas de organização política que não detinham uma figura de autoridade central foram suprimidas pelos colonizadores europeus.
Em vista disso, as ideias e instituições westphalianas – seja o Estado, a soberania, a autoridade, entre outros – estão envolvidas necessariamente a ideais preconceituosos e discriminatórios, que excluem – ou incluem forçadamente – aqueles que não possuem ou não desejam fazer parte da organização política vigente proposta pelos europeus (URT, 2016). Os indígenas foram inadequadamente caracterizados como povos primitivos e que necessitavam da ajuda e da “salvação” ocidental para se tornarem sujeitos “conscientes e civilizados” dentro da sociedade europeia. Surpreendentemente, essa salvação ocorreu através de genocídios e etnocídios, em que não somente houve a perda de corpos físicos indígenas, por meio da perseguição e da escravização, mas também a destruição das políticas e culturas indígenas, através de processos de silenciamento como a imposição da religião cristã (MILANEZ et al. 2019).
Assim, as concepções exclusivistas atreladas ao colonialismo e imperialismo passaram a dominar completamente os mais diversos aspectos da vida dos povos indígenas. Com o passar do tempo, não só os europeus e seus ideais violentaram essas comunidades, mas também os próprios países colonizados – suas instituições e populações – sob a mesma lógica dos antigos opressores. Dessa forma, após os indígenas serem excluídos socialmente da história através de processos de destruição de memórias, como o genocídio e o etnocídio, essas populações passaram a sofrer também um deliberado silenciamento político (PICQ, 2013). Esse processo de silenciamento, que é consequência direta das práticas decorrentes da colonização, ocorre principalmente a partir da oclusão da soberania indígena, realizada tanto pelo Estado quanto pela sociedade.
Nesse contexto, a oclusão é uma forma concreta e bastante específica de silenciar, a partir de métodos ilusoriamente contraditórios, os indígenas que resistiram e sobreviveram à colonização. Esse processo é realizado através de ideais e práticas combinadas de subjugação, negação da existência de diferenças e atos de resistência (URT, 2016). Desse modo, as principais formas de se realizar essa oclusão da soberania, de acordo com Urt (2016), são através da privação do direito à terra aos indígenas e da internalização legal dessas populações. Sem suas terras, os indígenas tornam-se vulneráveis à objetificação de seus modos de vida e sofrem uma inclusão forçada ao resto da sociedade, promovendo a exclusão moral dessas comunidades, o que gera consequências desastrosas, como se verá na próxima seção do artigo.
Portanto, com a colonização não houve apenas o desrespeito dos costumes indígenas, mas também da soberania e dos modos de organização política dessas sociedades. A imposição de um sistema de Estados sob o modelo westphaliano em comunidades já estruturadas politicamente e que não eram compatíveis com as mesmas noções europeias de poder, território, autoridade, entre outros, gerou exclusão, desordenamento e deslegitimação das sociedades indígenas como corpos políticos e sociais. Infelizmente, os danos causados aos povos indígenas que sobreviveram às práticas genocidas e etnocidas continuam, através de mecanismos tão destruidores quanto os anteriores, empregados pelo Estado e pela sociedade, gerando apenas uma alternativa aos povos indígenas: a dizimação.
CONSEQUÊNCIAS DA OCLUSÃO DA SOBERANIA AOS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS
A partir da compreensão teórica da oclusão da soberania indígena, bem como o entendimento das principais práticas que o Estado e a sociedade executam para a deslegitimação das vivências indígenas, pode-se entender como estes povos enfrentam os contínuos processos de exclusão, silenciamento e opressão de suas comunidades no Brasil. Sem dúvidas, não é de hoje que os direitos básicos dos indígenas brasileiros são ignorados pelas autoridades e pela sociedade civil. Independentemente das formas e dos regimes políticos que o país já adotou ao longo de sua história – imperial ou republicano, democrático ou autoritário – os governos brasileiros recorrentemente foram omissos no tocante às questões políticas, territoriais, culturais e sociais das populações indígenas. As perspectivas de desterritorialização, dominação e assimilação dos povos indígenas predominam até hoje nas políticas do Estado e nos ideais da sociedade brasileira (AMADO, 2019).
No entanto, é bastante claro que o governo Bolsonaro vem ultrapassando todas as administrações anteriores nos quesitos hostilidade e silenciamento político de povos indígenas. É inegável que a atual gestão tenha contribuído, não só com seus discursos violentos, mas também a partir da omissão de políticas públicas efetivas, para a violação dos direitos indígenas, incluindo o direito à soberania. Nesse sentido, os processos de desregulamentação e mudanças de leis – popularmente conhecidos como “passar a boiada”, em referência a fala do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na famosa reunião ministerial em 22 de Abril de 2020 – vem permitindo que os direitos das populações indígenas sejam completamente desrespeitados não só por agentes públicos, mas também por diversos atores da sociedade. De acordo com Amado (2019):
“Pela primeira vez no período pós-redemocratização, temos um presidente declaradamente anti-indígena, que prolifera um discurso de não demarcar as terras indígenas (TI) tradicionalmente ocupadas, e desloca a pauta socioambiental para um discurso de ideário moralista, negando o importante papel que a Amazônia brasileira e os territórios indígenas cumprem no equilíbrio climático e bem-estar da humanidade.” (AMADO, 2019, p. 704-705).
A questão da despossessão de terras indígenas é um assunto recorrentemente discutido entre as populações nativas e o atual governo. As instituições públicas, com o declarado apoio do presidente, vêm permitindo que madeireiros, garimpeiros, pescadores ilegais, fazendeiros e grileiros, invadam as terras indígenas e pratiquem ilegalmente atividades como mineração e agricultura. Para mais, o número de agressões e assassinatos contra os povos indígenas, em especial durante a pandemia, estão se intensificando a cada ano. Segundo o Relatório de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, produzido pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o ano de 2020 foi um dos mais nocivos aos povos nativos, por conta da omissão do atual governo federal em implementar políticas coordenadas de proteção às comunidades indígenas. Além disso, o ano passado foi marcado pelas invasões que “devastaram territórios, provocaram conflitos, atos de violência contra os indígenas e atuaram como vetores do coronavírus” (2020 FOI UM ANO..., 2021).
A atual crise vivenciada pelo povo indígena Yanomami é um exemplo muito claro da irresponsabilidade do Estado e da sociedade brasileira para com as populações indígenas. Com uma área de aproximadamente 10 milhões de hectares, 370 aldeias e 28 mil indígenas vivendo de maneira isolada, os Yanomami têm sofrido uma verdadeira crise ambiental, sanitária e de invasão de seu território. Há o avanço da mineração ilegal, com uma estimativa de 20 mil mineradores explorando indevidamente recursos minerais, provocando desmatamentos e a contaminação de rios com mercúrio (FUNAÍ PROÍBE EQUIPE..., 2021). Além disso, a saúde está em colapso por conta principalmente do surto de malária que não está sendo devidamente assistido pelos órgãos públicos de saúde. Essa situação é um retrato expressivo da forma com a qual Bolsonaro se relaciona com os povos indígenas: através do autoritarismo e de práticas e discursos coloniais.
CONCLUSÃO
Assim, relembrando que a privação do direito à terra e a internalização legal dos povos indígenas são duas práticas fundamentais utilizadas pelo Estado para a efetivação da oclusão da soberania indígena (URT, 2016), e relacionando isso com as atuais vivências dos indígenas brasileiros no governo Bolsonaro, verifica-se que o Estado brasileiro está sendo muito bem-sucedido em seu projeto de silenciar essas comunidades. As populações indígenas estão sofrendo um verdadeiro processo de oclusão de sua soberania, em que as autonomias política, territorial, social e cultural são deslegitimadas através de desregulações e mudanças de leis que beneficiam invasores de terras indígenas a continuarem explorando ilegalmente esses locais, bem como a praticarem atos de violência contra os povos indígenas. Logo, esse patrocínio do Estado em deliberadamente negar a existência e os direitos básicos de populações nativas tem origens muito antigas, passando por ideias e práticas coloniais europeias.
REFERÊNCIAS
AMADO, Luiz. Autoritarismo e resistência indígena no Brasil. Rev. Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. 2019 out-dez.;13(4):702-6. Disponível em: https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1939/2309. Acesso em: 21 nov. 2021.
BEIER, J. Marshall, “Beyond hegemonic state(ment)s of nature: indigenous Knowledge and non-state possibilities in international relations” in Chowdhry, G. & Nair, S. (eds.) Power, Postcolonialism and International Relations: Reading Race, Gender and Class, London: Routledge, 2002.
FUNAÍ PROÍBE EQUIPE… (2021). Funai proíbe equipe da Fiocruz de levar assistência aos Yanomami em meio à desnutrição, surto de malária e abandono do governo. G1, 21 nov. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/11/21/funai-proibe-equipe-da-fiocruz-de-levar-assistencia-aos-yanomami-em-meio-a-desnutricao-surto-de-malaria-e-abandono-do-governo.ghtml. Acesso em: 21 nov. 2021.
MILANEZ, F,; SÁ, L.; KRENAK, A.; CRUZ, F; RAMOS, E.; JESUS, G. Existência e Diferença: O Racismo Contra os Povos Indígenas. Rev. Direito e Práxis, 10 (03), Jul-Sep 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdp/a/3SxDNnSRRkLbfh3qVFtmBDx/?lang=pt. Acesso em: 21 nov. 2021.
ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Disponível em: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf. Acesso em: 21 nov. 2021.
PICQ, Manuela. 2013. ‘Indigenous worlding: Kichwa women pluralizing sovereignty’. In Arlene Tickner and David Blaney (eds). Claiming the International, New York: Routledge, pp. 121–40.
URT, João Nackle. ‘How Western Sovereignty Occludes Indigenous Governance: the Guarani and Kaiowa Peoples in Brazil.’ Contexto Internacional, vol. 38, n. 3, 2016.
2020 FOI UM ANO TRÁGICO… (2021). 2020 foi um ano trágico para os povos indígenas do Brasil. Extra Classe, 28 out. 2021. Disponível em: https://www.extraclasse.org.br/movimento/2021/10/2020-foi-um-ano-tragico-para-os-povos-indigenas-do-brasil/. Acesso em: 21 nov. 2021.





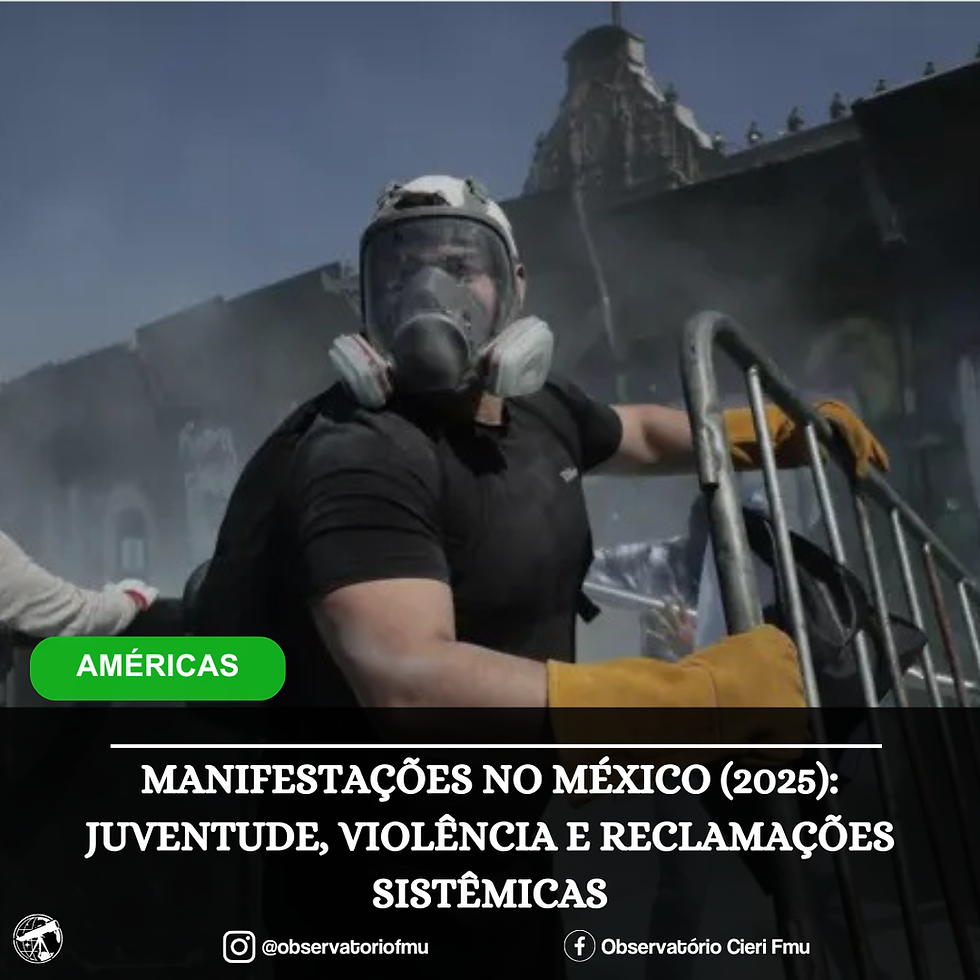
Comentários