Fome Zero: Do Brasil Para o Mundo
- Lucas Rocha Barbuda de Matos
- 30 de ago. de 2021
- 12 min de leitura

Menos de 2,5% da população brasileira vive em situação de subnutrição. - Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania
Resumo
Lula adotou um discurso de representação dos mais pobres do Brasil, o qual, por sua vez, tinha quase 25% da sua população em extrema pobreza. A extrema pobreza, por sua vez, é a causa primária para a fome no Brasil, em um quadro crítico e de urgência por medidas públicas que garantissem a segurança alimentar brasileira. O Fome Zero surgiu nesse sentido e foi o principal programa mundial no combate à fome, chegando a ser exportável e capaz de agregar muito valor internacional em torno de si, sendo esse o foco do presente artigo.
Palavras-chave: Fome; Lula; Fome Zero; Segurança alimentar.
Abstract
Lula adopted a speech representing the poorest in Brazil, which, had almost 25% of its population in extreme poverty. Extreme poverty is the primary cause of hunger in Brazil, in a critical and urgent context for public measures that guarantee Brazilian's food security. Fome Zero emerged in this sense and was the main global program in the fight against hunger, becoming exportable and capable of adding much international value around itself, which is the focus of this article.
Key-words: Hunger; Lula; Zero Hunger; Food security.
Introdução
Diante de paradigmas liberais e realistas, existem temas que são do alto escalão das Relações Internacionais e estão sempre em voga pelos acadêmicos, como segurança internacional e comércio. No entanto, dentro de um sistema ora anárquico ora cooperativo, há milhões de pessoas que são pobres ao ponto de não terem dinheiro para comprar seu alimento, ou não possuem como comprá-los.
Na Organização Mundial do Comércio (OMC), muito se discute sobre subsídios agrícolas e barreiras tarifárias para a entrada de produtos primários em países desenvolvidos, em uma tentativa dos países em desenvolvimento de aumentar sua renda. No século XXI, a fome assume um papel de mais destaque nas Relações Internacionais.
Nesse contexto, surge Lula (PT) com o discurso de que a fome é estrutural e precisa ser uma questão central. Assim, foi-se gerado o Programa Fome Zero, em 2003, que denunciava uma realidade estruturada de fome, em um ciclo que se alimentava constantemente e precisaria ser combatido por meio de medidas públicas eficientes de acesso ao alimento, quer seja pela compra, quer seja pela doação. As medidas tomadas por Lula trouxeram bons resultados ao ponto do mundo pedir pelas palavras brasileiras sobre o tema, abrindo margem para iniciativas dentro da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), dentre outros órgãos das Nações Unidas.
Assim, o Brasil se tornou um exemplo no combate à fome e adquiriu um capital político internacional muito amplo, dando-lhe prestígio e coordenação em programas internacionais de combate à fome. O governo Lula colocou a fome como agenda internacional relevante, algo que precisa ser rechaçado na atualidade. Segurança e conflitos geopolíticos são importantes, mas, antes disso tudo, há pessoas passando fome.
Portanto, o debate sobre as cadeias alimentares dentro dos países precisa ser um debate constante dentro dos países e em organizações internacionais. O próprio universo acadêmico secundariza a questão da fome nas Relações Internacionais, de modo que a atuação do governo Lula nesse universo é brevemente explorada, embora seja parte central do programa de governo do ex-sindicalista. Estudar a fome é estudar Relações Internacionais, e é preciso entender a fome para se compreender que, por trás de toda insegurança e cooperação, há um prato de comida em disputa.
Conceituações Importantes
Um dos mais importantes conceitos da questão é o de segurança alimentar, definido como “situação quando as pessoas, a qualquer momento, têm acesso físico e econômico a uma quantidade de alimentos seguros e nutritivos, que satisfaçam as necessidades de uma dieta que permita uma vida ativa e saudável” (CAMÕES, 2015, online). Cabe ressaltar que faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos o direito à alimentação, de modo que essa definição foi um aperfeiçoamento de medidas e conceitos para o cumprimento da carta de 1948 (idem).
Outro conceito importante é o de soberania alimentar, que engloba 4 dimensões:
1) Disponibilidade física de alimentos;
2) Acesso físico e económico aos alimentos;
3) Uso dos alimentos na dieta alimentar;
4) Estabilidade e continuidade temporal nas 3 dimensões (CAMÕES, 2015, online)
Assim, a questões política e social em torno da comida vai muito além da posse do alimento em si, antes, engloba a necessidade de um Estado que garanta uma série de condições para a população ter a capacidade de produzir e acessar o alimento, tendo a segurança necessária para isso (ECYCLE, online).
FOME ZERO
Lula disse que a produção alimentícia brasileira é mais do que suficiente para que nenhum brasileiro passe fome, não obstante, quando assumiu, em 2003, 9,3 milhões de famílias, ou 44 milhões de brasileiros eram muito pobres, isto é, recebiam menos de um dólar por dia (LULA, 2001; apud FRANÇA, GROSSI, SILVA, 2010).
Em decorrência da pobreza, a fome acompanha, demonstrando uma relação diretamente proporcional, de modo que os extremamente pobres vivem em uma situação de insegurança alimentar, em uma situação oposta à definição feita anteriormente. Portanto, a situação brasileira é complexa e demandava mudanças econômicas e estruturais, de modo que a renda chegasse aos mais pobres, não sendo uma questão de produção alimentícia em si.
Assim,
[...] a questão da fome no Brasil tem, nesse início do século, três dimensões fundamentais: primeiro, a insuficiência de demanda, decorrente da concentração de renda existente no país, dos elevados níveis de desemprego e subemprego e do baixo poder aquisitivo dos salários pagos à maioria da classe trabalhadora. Segundo, a incompatibilidade dos preços atuais dos alimentos com o baixo poder aquisitivo da maioria da sua população. E a terceira, e não menos importante, a exclusão do mercado daquela parcela mais pobre da população. (FRANÇA, GROSSI, SILVA, p.18, 2010)
O diagrama abaixo esquematiza o problema estrutural da questão:
Falta de políticas de geração de emprego e renda;
Desemprego crescente;
Concentração de renda;
Salários baixos

Consumo de alimentos cai
FOME
Diminui a oferta de alimentos

Juros altos;
Crise agrícola;
Falta de ofertas agrícolas.
Queda nos preços agrícolas;
(FRANÇA, GROSSI, SILVA, p.18, 2010)
Esse argumento demonstra que a crise alimentícia brasileira era estrutural, isto é, não se trata de uma conjuntura específica, antes, possui um sequenciamento claro de ações que persistem, com agentes que são bem enraizados.
Assim, Lula se posiciona de maneira incisiva contra uma estrutura que concentra renda e que mantém oligarquias no poder, de modo que a população mais pobre nunca é representada, sendo a questão da fome muito secundária. Em cima de uma maior representação política de classes precarizadas, Lula construiu seu capital e eleitorado político, de modo que a fome, no início da década de 2000, era uma pauta urgente.
Para a mudança de uma estrutura que se auto regulava pela perpetuação da fome, a fim de se alcançar a segurança alimentar, a estrutura seria modificada com as seguintes políticas:
Melhoria na renda – políticas de emprego e renda; reforma agrária; previdência social e universal; bolsa escola; renda mínima; microcrédito (FRANÇA, GROSSI, SILVA, p.19, 2010)
Barateamento da alimentação – restaurante popular; convênio supermercado/sacolão; canais alternativos de comercialização; equipamentos públicos; PAT; legislação anti concentração; cooperativas de consumo (FRANÇA, GROSSI, SILVA, p.19, 2010).
Aumento de oferta de alimentos básicos: apoio à agricultura familiar; incentivo e produção para autoconsumo; política agrícola (FRANÇA, GROSSI, SILVA, p.19, 2010)
Ações específicas: cupom de alimentos; cesta básica emergencial; merenda escolar; estoques de segurança; combate à desnutrição materno-infantil (FRANÇA, GROSSI, SILVA, p.19, 2010).
Assim, há um misto de políticas emergenciais e mais duradouras, tendo como principal exemplo, em relação às primeiras, programas de transferência de renda, como o bolsa família. Em relação aos mais duradouros, programas de cunho estrutural, como a liberação de crédito pelo BNDES para construção de conglomerados estudantis e industriais que empreguem e deem educação em áreas de alta pobreza. Assim, ocorreria um crescimento da renda em áreas críticas da fome, permitindo que ocorresse um maior acesso ao alimento e, por conseguinte, uma maior segurança e soberania alimentar.
Internacionalização do Fome Zero como Soft Power Brasileiro
Primeiramente, é preciso conceituar Soft Power. Para nossos propósitos, a definição mais apropriada é a de Nye (2012): a capacidade de criação de preferências internacionais. Nesse sentido, busca-se uma legitimação e capacidade de mobilização internacional que dispense o uso da força (NYE, 2012). Assim, a internacionalização do Fome Zero significa uma tentativa brasileira de criar preferências internacionais em torno da temática de combate à fome.
A tentativa de criação de preferências internacionais é um resultado direto da política externa de Lula, muito marcada por um reformismo internacional com aliados semelhantes (OLIVEIRA, 2004). A plataforma política de Lula foi a defesa de direitos sociais e de desenvolvimento, especialmente a busca por segurança, soberania alimentar e redução da disparidade multissetorial entre os países, de modo a reduzir as assimetrias que marcam o sistema internacional (BRAGA, 2020, SILVA, 2016; SILVA, 2017).
Em vista disso, Lula confrontou o que se chama de high politics, isto é, o que se considera como essencial na agenda internacional, como segurança e comércio, de modo a tentar integrar questões sociais como essenciais para o sistema internacional, pois ele cria que a pobreza era a causa principal do terrorismo e de todas as formas de violação dos Direitos Humanos (BRAGA, 2020, SILVA, 2016; SILVA, 2017).
Assim, muitos países em desenvolvimento se uniram em torno de uma reforma do sistema internacional, reivindicando, sobretudo, uma maior participação nas decisões do rumo do sistema internacional (ARRAES, 2004; SILVA, 2017). O Brasil, então, no tocante à fome, assumiu a dianteira na questão, dado que foi o país mais bem-sucedido no combate à fome, ao ponto do programa fome zero ser emulado por muitos países em suas realidades, revelando que a liderança brasileira em torno da questão era legítima (ARRAES, 2004).
Indo além, o Brasil, a partir da Era Lula, o Brasil se tornou um dos principais contribuintes com o Programa Alimentar Mundial (PAM), por meio de doações alimentícias (GIRALDI; MACEDO, 2014). Um outro exemplo do empenho brasileiro na promoção da segurança alimentar é a parceria com o Centro de Excelência do Programa Mundial de Alimentos para a África, como um traço importante da meta da política externa de Lula de estreitamento de laços com os países africanos (AMORIM, 2010). Nesse sentido, o Brasil constrói um capital político internacional de aglutinador de forças de países em desenvolvimento.
Cabe ressaltar que os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos são os que mais sofrem com a fome, demandando uma série de medidas específicas para seus contextos, se distanciando dos temas tidos como “de alto escalão” das Relações Internacionais, como a segurança - muito em voga após o 11 de setembro (BRAGA, 2020). Levando isso em consideração, muitos países em desenvolvimento, principalmente Brasil e China, se posicionaram mais contundentemente em torno da questão alimentar mundial. Sob a liderança brasileira, em 2004, foi-se tentada uma internacionalização do Fome Zero (ARRAES, 2004).
Em linhas gerais, houve uma tentativa de criação do Fundo Mundial de Combate à Fome, com colaborações voluntárias de países ricos e em desenvolvimento, e, também, a criação no âmbito da ONU de um Comitê Mundial de Combate à Fome, o qual seria integrado por chefes de governo, lembrando o papel decisivo que a FAO teria na luta contra a fome (SILVA, 2016). A delegação brasileira propôs a “taxação das transações financeiras de paraísos fiscais (0,01%) e das vendas mundiais (cerca de US$ 900 bilhões anuais) de armas de grande porte ou ainda da destinação equivalente de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países desenvolvidos” (ARRAES, 2004, online). No entanto, a medida foi tida como antidemocrática pelos Estados e poucos países desenvolvidos sequer compareceram à sessão que debateu a temática (ARRAES, 2004). Assim, a internacionalização do programa não obteve sucesso, dado que a participação dos países desenvolvidos era inexorável (idem).
Embora o plano de internacionalização do Fome Zero não tenha sido bem-sucedido, o Brasil não poupou esforços na manutenção da imagem de líder no combate à fome, estabelecendo uma série de acordos bilaterais, sobretudo com países africanos, no combate à fome (AMORIM, 2010). Indo além, Lula foi muito crítico em relação à doação por si só, posto que muitos países o faziam para eliminar o excedente de produção interno e proteger seu país, mantendo as desigualdades econômicas entre os países mais pobres e os mais ricos (CAMÕES, 2015). O presidente brasileiro, então, criou planos de infraestrutura e de coordenação econômica e social com países muito pobres, sobretudo africanos, na construção de capacidade de produção e acesso ao alimento.
Nota-se que os países em desenvolvimento são, em sua maioria, dependentes do setor primário, de modo que o protecionismo agrícola é denunciado como uma prática desleal de comércio internacional (MESQUITA, 2013). Diante disso, países em desenvolvimento, alguns em arranjos, como o IBAS – acrônimo de Índia, Brasil e África do Sul –, agiam de forma concertada, de forma a ter maior peso em negociações no âmbito da OMC (AMORIM, 2010). Há exemplos de rodadas de negociação comercial internacional importantes para os países em desenvolvimento, como a rodada do Uruguai, que culminou na criação da OMC, em decorrência de desencontros em vários setores, especialmente na disputa no que tange ao protecionismo, e a rodada de Doha, da mesma Organização (AMORIM, 2010). Ambas foram marcadas por entraves em torno da liberalização agrícola, permitindo que os países em desenvolvimento alcancem os mercados dos países desenvolvidos, permitindo o crescimento econômico (MESQUITA, 2013).
Como demonstrado no esquema que aponta o problema estrutural da fome, os salários baixos e desemprego são uma das causas da queda do consumo de alimentos (FRANÇA, GROSSI, SILVA, p.18, 2010). Como a maior parte da renda de países em desenvolvimento tem como origem o setor primário, aumentar a quantidade de produtos agrícolas exportados faz com que se aumente o número de pessoas contratadas, maior circulação de dinheiro e renda (MESQUITA, 2013). Porém, os países desenvolvidos possuem a vantagem competitiva dos subsídios agrícolas – sobretudo europeus –, criando empecilhos à exportação para tais países (AMORIM, 2010; MESQUITA, 2013).
A questão alimentícia como agenda internacional brasileira faz parte do objetivo supracitado da Política Externa de Lula, de modo que permita maior participação e maior elaboração de regras internacionais que contemplem as perspectivas dos países em desenvolvimento. Embora as iniciativas propostas por Lula não tenham avançado, a simples discussão sobre os temas diante da comunidade internacional já reforça a importância de tais questões. E tudo isso foi liderado pelo Brasil, demonstrando um ganho e manutenção de Soft Power considerável.
Brasil nos objetivos do Milênio e no Mapa da Fome da ONU
No ano 2000, a ONU estabeleceu 8 objetivos para serem cumpridos até 2015, definidos como objetivos do milênio (FIOCRUZ, online). O primeiro objetivo era acabar com a fome e a miséria. A esse respeito,
O Brasil já alcançou tanto as metas internacionais quanto às metas nacionais de redução da extrema pobreza e da fome; a pobreza extrema no Brasil hoje é menos de um quinto comparado a 1990; a porcentagem de crianças desnutridas já é menor do que o tolerável segundo a Organização Mundial da Saúde; o Nordeste ainda é a região mais pobre do país, mas a desnutrição infantil já está próxima das regiões mais desenvolvidas. (IPEA, 2010 apud FIOCRUZ, online)
É importante ressaltar que desde a institucionalização do programa Fome Zero, o avanço no combate à fome foi considerável, dando muita notoriedade ao programa brasileiro. Ainda nesse âmbito, há o Mapa da Fome, um indicador do PAM, que divide os países em 4 categorias quantitativas no que diz respeito ao percentual da população subnutrida: menor que 5%; entre 5 e 9%; 10 a 19%; 20 a 34%; maior ou igual a 35%. Nota-se que o período de ascensão de Lula ao poder e parte do primeiro mandato de Dilma foram essenciais no combate à fome, dado que a fome diminuiu em 82% de 2002 e 2013, atingindo o menor patamar histórico (IPEA, 2010 apud FIOCRUZ, online).
O mapa da fome de 2003 demonstra que o Brasil fazia parte do mapa da fome, tendo entre 5 e 19% da população subnutrida (WFP, 2003). Já o mapa da fome de 2010 revela que a desnutrição no Brasil caiu para abaixo de 5%. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, isto é, o número de pessoas desnutridas no país se tornou menor que 5%, demonstrando que as medidas institucionais de promoção e segurança alimentar foram bem-sucedidas.
Considerações Finais
Sair do Mapa da Fome e permitir que milhões de brasileiros tenham comida é uma marca que precisa ser exaltada e estar sempre em evidência. Mais do que isso, o mundo viu o Brasil e tomou como referência, em um movimento de fortalecimento do multilateralismo e dos propósitos da Política Externa de Lula. Indubitavelmente, o Soft Power brasileiro foi fortalecido nesse cenário.
É preciso que a comunidade científica se debruce sobre a temática da fome no cenário internacional e exaltem a importância da FAO e de seus programas de combate à fome. Mais do que isso, é preciso constranger os Estados, principalmente os desenvolvidos, sobre os seres humanos que padecem com a subnutrição em um planeta que produz muito mais que precisa para sua sobrevivência. Em um mundo tão preocupado com a guerra, as palavras de Lula são imprescindíveis: o melhor meio de evitar uma guerra é eliminando a fome.
Referências Bibliográficas
AMORIM, Celso. Brazilian Foreign Policy under President Lula (2003-2010): an overview. rev. Bras. Polít. Int. 53 (special edition): 214-240 [2010].
BRAGA, Pablo de Rezende Saturnino. Democratização, política externa e direitos humanos: uma releitura do caso brasileiro. Rev. Carta Inter., Belo Horizonte, v. 15, n. 1, 2020, p. 185-207.
ECYCLE, online. O que é segurança alimentar. Online. Disponível em: https://www.ecycle.com.br/8545-seguranca-alimentar.html#:~:text=%20As%20quatro%20dimens%C3%B5es%20da%20seguran%C3%A7a%20alimentar%20,de%20recursos%20e%20direitos%20para%20aquisi%C3%A7%C3%A3o...%20More%20.
ARRAES, Virgílio. Brasil: Fome Zero Mundial. 2004. Revista Meridiano 47, números 52 e 53, novembro/dezembro de 2004, págs. 9 ao 12. Disponível em: https://core.ac.uk/reader/79177577.
CAMÕES, Joaquim Dias. Segurança Alimentar. 2015.
FIOCRUZ. Objetivos de desenvolvimento do Milênio. Disponível em: http://www.fiocruz.br/omsambiental/media/ODMBrasil.pdf.
FRANÇA, Caio Galvão de; GROSSI, Mario Eduardo Del; SILVA, José Graziano Da. Fome Zero – A Experiência Brasileira. 2010. 1 edição. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2010. Disponível em: Fome Zero - A experiência brasileira (fao.org).
GIRALDI, Renata; MACEDO, Danilo. Brasil entre os maiores doadores de alimento do mundo. 2012. Disponível em: https://www.gentedeopiniao.com.br/mundo-internacional/brasil-entre-os-maiores-doadores-de-alimentos-do-mundo.
MESQUITA, Paulo Estivallet de. A Organização Mundial do Comércio. Brasília: FUNAG, 2013.
NYE, Josep. O futuro do Poder. 2012. 1 edição. São Paulo: Benvirá, 2010.
OLIVEIRA, Henrique Altemani de. Brasil-China: trinta anos de uma parceria estratégica. Rev. Bras. Polít. Int. 47 (1): 7-30 [2004].
SILVA, Danielle Costa da. A agenda de direitos humanos na política externa brasileira e a participação das ONGs no seu processo de formulação. 2016. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
SILVA, Ronaldo. DESCONTINUIDADES NA POLÍTICA EXTERNA DE DIREITOS HUMANOS BRASILEIRA PÓS-REDEMOCRATIZAÇÃO. Unila, 2017.





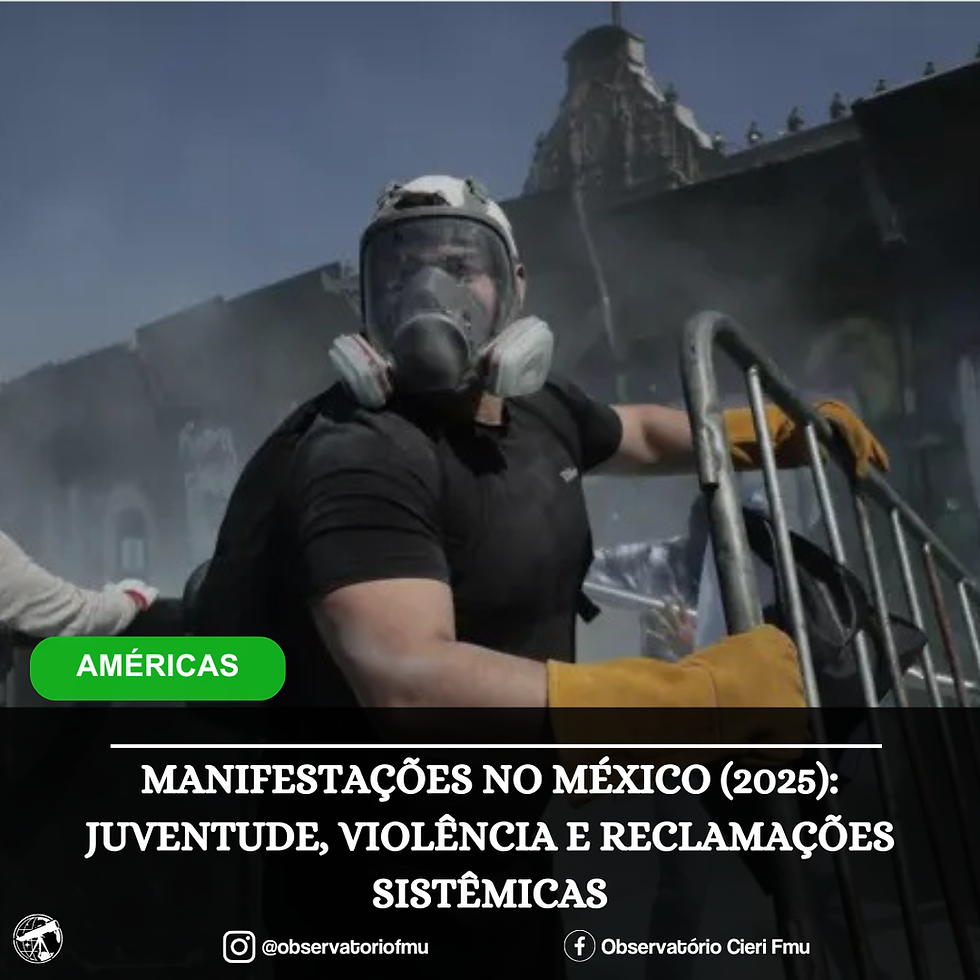
Comentários