A Política Externa Hollywoodiana: A Cultura de Guerra
- Bruna Dutra Ribas
- 4 de ago. de 2021
- 7 min de leitura

Bookout, Nina. 2015
Resumo
Esse trabalho tem o objetivo de analisar como algumas produções cinematográficas contribuíram com a cultura de guerra americana, que por muitas vezes, ajudou na construção do inimigo a ser combatido e na mobilização de apoio popular aos conflitos travados pelos EUA.
Palavras-chaves: Cultura de guerra, EUA, securitização, conflitos.
Introdução
A indústria cultural, nesse caso, as produções de Hollywood exercem influência não somente em relação a naturalização de valores de interesse da classe dominante. Em vários filmes americanos, é possível notar a extrema valorização de conflitos e principalmente dos participantes das guerras, que arriscam suas vidas em nome da defesa dos EUA.
Contudo, a necessidade de contenção de uma ameaça nem sempre é originária de algo físico, pode também se apresentar através de um símbolo nacional ou valor social. Não é muito difícil encontrar produções que retratam alguns grupos ou países como perigosos para a democracia e liberdade americana, sempre de uma maneira estereotipada.
Esse tipo de narrativa não é construída de forma aleatória, ela corrobora com o discurso de securitização do governo americano e também com a cultura de guerra dos americanos. Ambos os termos explicam as razões e motivações da participação e apoio popular em guerras e conflitos violentos nos quais os EUA já participaram.
A independência americana como parte da cultura de guerra
A política externa americana, por muito tempo, se baseou no isolacionismo, se preocupando somente com questões regionais que pudessem atrapalhar sua estabilidade, principalmente no período pós independência. Durante o momento da guerra de independência, os próprios americanos, ou seja, a população civil lutou contra os ingleses para garantir de fato a liberdade tão desejada desde a chegada no atual território americano, antes conhecido como ‘a terra prometida’.
Dessa maneira, sem a presença de um exército oficial, a futura nação americana contou com a participação da população armada para defender a terra da liberdade do inimigo em comum, que por sua vez, tentou impedir que a colônia se tornasse independente. Portanto, esse foi um momento importante para os EUA na formação da sua identidade como nação, pois além de gerar união para alcançar um objetivo comum estabeleceu-se um costume de luta contra o inimigo da pátria que se preciso fosse a própria população civil defenderia o objeto que está ameaçado.
Com a independência consolidada e com boa parte do seu território atual conquistado entre diversas guerras e conflitos, os americanos, ainda que grandes territorialmente e expressivos economicamente, ainda não tinham tanto espaço no sistema internacional. Contudo, o período conhecido como ‘isolacionista’ é deixado para atrás quando o país assume a posição de líder no contexto pós segunda guerra, na qual a sua atuação foi extremamente importante para a vitória dos aliados e por consequência novas diretrizes no âmbito da política internacional foram traçadas.
Mesmo que a guerra fria tenha relativizado a influência dos EUA em alguns locais do mundo, os americanos tinham maior preponderância em comparação a União Soviética, o que resultou num fim da URSS e triunfo da democracia e do capitalismo. Em ambas situações de conflito que foram enfrentadas pela política externa americana, foi necessário que a população apoiasse a atuação dos EUA nas guerras, até porque a pressão e opinião popular podem começar ou terminar ações externas que geram um alto custo de vidas para o Estado.
As narrativas criadas pelos meios de comunicação
Na grande maioria das vezes as histórias construídas pela mídia são mecanismos importantes para convencer os telespectadores que determinada ação pode ser boa ou ruim. Nesse caso, os jornais televisivos e até mesmo os impressos têm um papel fundamental na fomentação da discussão popular se aquele conflito fere algum valor da sociedade americana, ou se por alguma razão algum símbolo nacional, não necessariamente físico, está sofrendo ou corre o risco de ser ameaçado por um eventual inimigo.
Se por um lado os meios de comunicação fazem um trabalho de ajudar na recusa ou aceitação popular acerca de um conflito armado, as produções cinematográficas têm a função de desenvolver quais os valores que devem ser protegidos. Mas do que somente enraizar ideias e valores, as produções de Hollywood também evidenciam quais são os valores que estão correndo perigo e quem são as pessoas ou país responsável pela situação de risco ou de violência que desperta um sentimento de retaliação urgente.
A indústria cultural mais uma vez se faz presente, principalmente no quesito de aclamar apoio popular e de naturalizar os elementos e acontecimentos das guerras americanas como parte fundamental da vida cotidiana. Ou seja, para boa parte das famílias americanas, é comum que sempre exista um veterano de guerra que voltou com condecorações, medalhas, lesões ou qualquer tipo de marca que exponha sua participação num conflito em nome do seu país e essa situação da vida real é reproduzida nos filmes de forma romantizada.
Os filmes como reforço audiovisual da cultura de guerra
Algumas produções mundialmente famosas como Forrest Gump, em vários momentos da história traz contextos de conflito, como na participação do personagem interpretado por Tom Hanks, na guerra do Vietnã. A sua atuação na guerra se dá de uma maneira quase natural, como se ser convocado para servir fosse algo costumeiro, uma situação presente fortemente na vida dos americanos, pois quase sempre a população é chamada para defender seu país em qualquer conjuntura que o governo apresente como urgente.
Outro momento marcante do filme, é quando passa uma retrospectiva familiar do Tenente Dan, que por sua vez tem o histórico do seus antepassados narrado por Forrest. Nesse momento, o personagem explica de forma rápida numa cena sem falas do seu superior do exército, que em todas as guerras americanas alguém da família do tenente esteve presente, e mais do que isso morreram em campo de batalha, ou seja, quando Dan é salvo no Vietnã e se irrita com Forrest por tê-lo ajudado, a razão para tanto, é justamente por ter sido impedido de cumprir com ‘seu dever’ de lutar pela pátria até a morte se preciso fosse igual ao seu pai, avô, bisavô e assim por diante.
Essa produção de 1994, não é a única que tem personagens ou histórias que envolvam algum contexto de conflito, pois não é muito difícil encontrar filmes ou séries em que o casal principal é separado por alguma guerra na qual o homem foi convocado para lutar. Fica visível o quanto a necessidade de defesa constante do território ou ideias americanos é presente na sociedade, e ainda como essas características são reforçadas em narrativas cinematográficas que sempre enaltecem os Ex-combatentes, como no caso, do nascido em quatro de julho.
No primeiro momento, o filme mostra como são recebidos e ovacionados os soldados que retornam da segunda guerra, ganham status e homenagens o que encanta e enche o imaginário do personagem de Tom Cruise de admiração, ainda criança. Com o passar dos anos, ele mesmo serve ao exército também na guerra do Vietnã, como uma forma de garantir uma vida de sucesso, assim como os outros militares aparentemente obtiveram, mas ao contrário de suas expectativas o personagem encontra uma realidade muito dura e diferente.
Embora a cultura de guerra que iniciou desde a independência e é enfatizada constantemente nas produções de cinema com situações de supervalorização do papel dos militares em relação ao seu dever de proteção da terra da liberdade, é necessário que o inimigo da vez seja exposto. Nesse sentido, a evidenciação da ameaça para a população ocorre através do discurso, não qualquer tipo de discurso, mas um específico o de securitização desenvolvido pela Escola de Copenhague.
O conceito de securitização
Não basta que a população esteja impregnada do espírito de combatente, é preciso que se mostre qual dos seus valores está sob ameaça e quem é o responsável pela situação de risco para que se alcance uma mobilização popular. A securitização vem justamente com esse propósito, pegar um objeto ou ideal, e através de discursos passar a mensagem para o público alvo de que existe algo ameaçando sua existência, tudo isso para validar o apoio da população nos conflitos externos e intervenções realizadas pelos americanos.
Um exemplo claro da utilização desse mecanismo, é a guerra ao terror, nomenclatura usada para definir as ações dos EUA no Oriente Médio depois dos ataques terroristas que enfrentaram em 2001. Após o onze de setembro os EUA passaram por um momento nunca antes visto, pois, pela primeira vez a maior potência militar do planeta se viu numa posição de fragilidade e vulnerabilidade diante de um grupo terrorista. E claro, esse novo grupo, que passou a perturbar a política americana foi inspiração para diversas produções que fortaleceram a securitização dentro dos estúdios Hollywoodianos, como no caso do Homem de Ferro.
O primeiro filme do herói conta como Stark se tornou o Homem de Ferro, um dos vingadores mais conhecidos dentro do universo Marvel, e justamente por ser o dono de uma das maiores indústrias armamentistas americanas, ele acaba capturado no Afeganistão onde desenvolve sua famosa e poderosa armadura. Seu sequestro alimenta a ideia de que a população do oriente médio, nesse caso, os afegãos vivem num ambiente comandado por grupos terroristas que necessitam ser salvos e defendidos por Tonny.
Além dos estereótipos apresentados no filme, a relação do herói com as armas se assemelha à realidade dos erros da política externa americana, uma vez que os EUA financiou o Talibã contra a União Soviética, e posteriormente foram atacados pelos mesmos. É justamente por conta dessas ações violentas que preocupam a nação americana, que filmes como O homem de ferro ajudam a clarear o novo inimigo e quais pontos ele visa destruir, nesse caso a liberdade e a democracia.
Sendo assim, a securitização desses valores, significa que são esses os objetos em risco de destruição pelas organizações terroristas reforçadas através do discurso do governo, e claro, do cinema. Porém, em suas intervenções, os EUA também carecem do apoio de outros países, organizações internacionais, e de outros atores que definem qual será a Agenda prioritária de discussão no sistema internacional, que em geral são afetadas pelo discurso de securitização assim como a população, mas com menor rancor e clamor por retaliação.
Conclusão
Mais uma vez o cinema americano desempenha um papel importante na construção dos valores sociais, ideais, e símbolos nacionais, mas agora visando um aspecto específico, a cultura de guerra. É claro que a formação e a maneira de organização do país contribui de forma importante para o comportamento de admiração e de dever em defender seu território por parte dos cidadãos, mas com certeza os filmes produzidos realçam esses aspectos.
Em vista disso, a existência de produções que trabalham a temática de guerra, sempre focando no quanto aquela situação é perigosa e ameaçadora, fazendo com que o protagonista se torne o herói digno de inspiração. Esse tipo de narrativa cria na sociedade americana a certeza da necessidade de união e defesa em qualquer contexto que algum de seus valores possam estar em perigo, já que esse comportamento é o correto e digno de ser feito.
Por fim, a securitização, ou seja, o discurso feito pelo governo para indicar que algum objeto precisa de defesa, tem apoio nas histórias contadas no cinema que viabilizam a mobilização popular. Com isso, o governo americano consegue respaldo da população, que acredita estar fazendo o correto para defender seus ideais e símbolos nacionais.
Referências Bibliográficas
PECEQUILO, Cristina. A política externa dos Estados Unidos. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 2003.
PEREIRA, Alexandro; SILVA, Caroline. A teoria da securitização e a sua aplicação em artigos publicados em periódicos científicos. Revista de sociologia política. 2019. Disponível em<https://www.scielo.br/j/rsocp/a/ygPZ8HJLnHCLWj4W5ZjxZKB/?format=html>





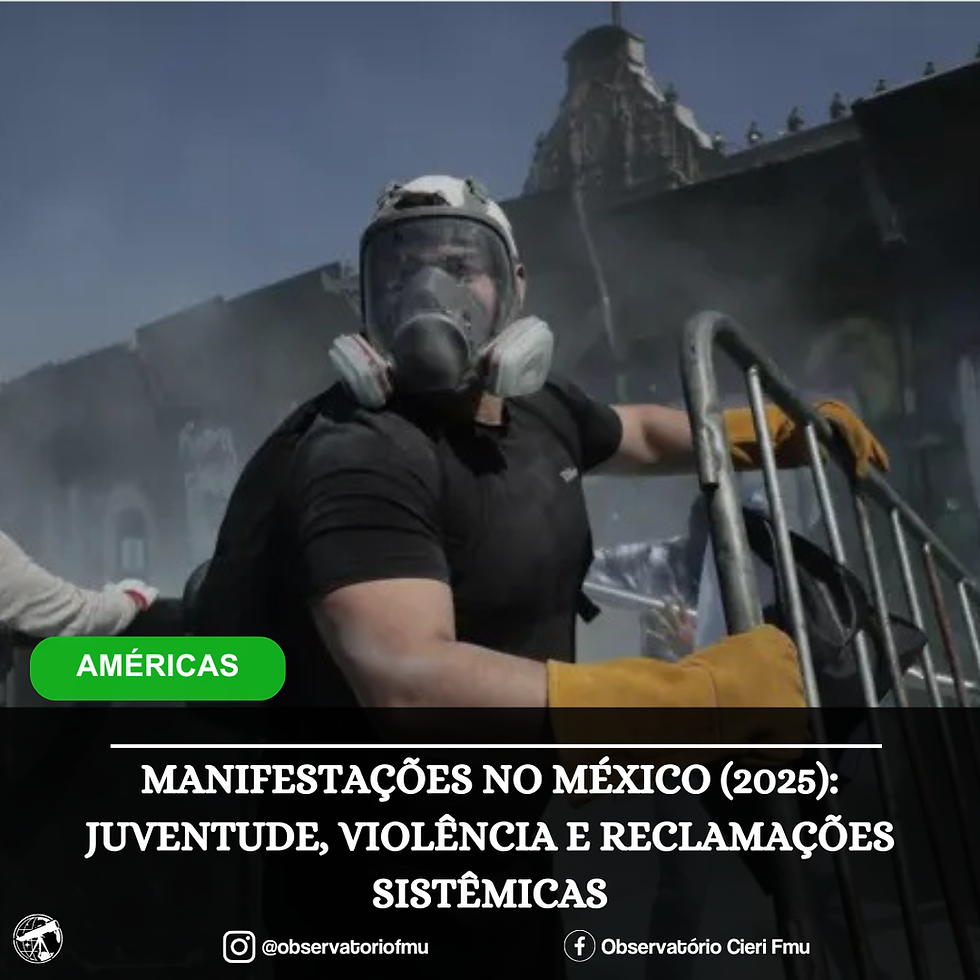
Comentários